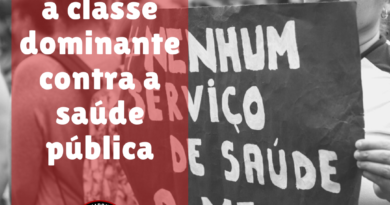Racismo e Dominação Colonial
Publicado na revista Socialismo Libertário nº 4, set. 2020. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
O capitalismo mundial globalizado tal-qual se desenvolve hoje, e no qual nos localizamos em sua ‘periferia’, a América, é um produto da colonização. Entre as ciências humanas fundamenta-se a crítica, via estudos pós-coloniais e decoloniais, acerca da colonialidade do poder. Um dos pilares da colonização foi estabelecer a classificação social das pessoas através da lógica racial. [Quijano, “Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina”] A dominação colonial inaugura o racismo e dele se serve para justificar sua dominação, ou seja, a exploração e extinção de determinados povos em detrimento de outro. Porém este eixo perpetuou-se ao longo dos anos e segue presente no padrão de dominação mundial contemporâneo. Portanto, a ideia de raça nasceu de um contexto específico (brancos classificando os “negros” e “índios” como tais), e a partir dos desdobramentos históricos se configurou como um dos eixos centrais do capitalismo, um elemento estrutural da sociedade.
O racismo é um termo amplo que abarca inúmeras violências de ocorrências distintas que se combinam em diversos contextos. A diferença racial, como mencionamos, tornou-se desigualdade em um longo processo histórico. O racismo ao desenvolver-se abertamente só pode resultar em genocídio. O genocídio é um processo histórico violento, portanto é um termo que carrega enorme peso. Quando se fala em genocídio, fala-se do processo sistemático de extermínio de um grupo específico.
O embranquecimento como estratégia do genocídio ocorre por dentro e por fora. O mito construído em torno da “democracia racial” brasileira que elogiava a miscigenação, mascara as reais intenções da política instituída até o governo Vargas: fazer com que a população de negros diminuísse à medida que aumentasse a porcentagem de mestiços, facilitando a imigração europeia com o objetivo de embranquecer a população. [Abdias, “O Genocídio do Negro Brasileiro”]
A violência cotidiana é a expressão máxima de um racismo instituído, mas além de sua manifestação física, fúnebre e sangrenta ela está também manifesta na cultura. Abdias Nascimento levanta também como uma das estratégias do genocídio o embranquecimento cultural dos negros, historicamente presente desde a catequização forçada até a proibição das expressões religiosas e culturais que traziam de suas regiões africanas, até a demonização de suas entidades cultuadas.
A antropologia traz um termo de distinção dessas redes que compõem o racismo, a ideia do etnocídio. Enquanto o genocídio visa eliminar as diferenças o etnocentrismo busca convertê-las. Logo, se o termo genocídio remete a questão racial, e a vontade exterminar por completo um grupo étnico-racial, o termo etnocídio não faz a referência para a destruição física dos homens, como o genocídio, e sim para a destruição de sua cultura. O etnocídio caracteriza a destruição sistemática de modos de vida e de pensamento de pessoas diferentes daquelas que conduzem a empresa da destruição. A construção do Outro passa a representar uma diferença negativa, uma diferença a ser convertida para o seu bem. Esse argumento está presente mesmo hoje nos discursos que pretendem justificar a retirada de terras indígenas, por exemplo. O genocídio assassina os povos em seus corpos e o etnocídio os mata em seu espírito. Porém, o que diferencia a dominação étnico-racial promovida pela Europa dos demais conflitos históricos? É que estas questões se combinam ao modelo econômico de produção que se fortaleceu e desenvolveu ao redor do mundo.
O que contém a civilização ocidental, que a torna infinitamente mais etnocida que qualquer outra forma de sociedade? É o seu regime de produção econômica, o capitalismo enquanto sistema socioeconômico para o qual tudo é recurso a ser utilizado, tudo é mercadoria, quer seja ele liberal ou privado, como na Europa do Oeste, ou dominado pelo Estado, como na Europa do Leste. A sociedade industrial é a mais formidável máquina de produção, e é também a mais assustadora máquina de destruição. Raças, sociedades, espaços, indivíduos, natureza, subsolo: tudo deve ser útil, tudo deve ser utilizado, tudo deve ser produtivo, de uma produtividade levada ao máximo de intensidade. O que não é produtivo deve ser exterminado, não tem nenhum valor. [Clastres, “A Arqueologia da Violência”]
Assim, a Europa tornou-se o patamar a ser atingido, ela elevou sua própria moral ao máximo e tornou-se o padrão ao que se compara todas as sociedades, se autodenominou como civilização. Toda a contribuição acadêmica, das ciências sociais e humanas, para questionar o eurocentrismo, que constitui parte importante da organização social mundial, é forjada a partir dos próprios reflexos dessa estrutura e os respectivos processos de luta contra o colonialismo e neocolonialismo. E mesmo as grandiosas histórias de resistência dos povos foram ocultadas. Em qual livro escolar é possível ler sobre a bravura da nação zulu contra os ingleses? Sobre a resistência de séculos dos mapuche ou a vitória do Haiti sobre os franceses? Ou mesmo de seu papel central nas revoltas brasileiras? Tudo que lemos, mesmo quando o assunto é rebelar-se, centra a Europa. Os povos não ocidentais vivenciaram o apagamento de suas raízes, foram retirados de sua história e rebaixados à selvagens, tamanha é a violência filosófica sofrida pelos povos da América e África.

Pensando no Brasil hoje, ao analisar as estatísticas em relação ao povo negro nas diversas áreas de estudo, sejam econômicas, sociais, saúde, moradia etc., percebe-se nitidamente que a parcela negra da população (considerada pelo Censo como a soma das pessoas autodeclaradas negras e pardas) sofre com as mazelas em números assustadoramente desproporcionais em relação à composição racial do país. O genocídio fica ainda mais escancarado quando se analisa as políticas públicas que foram e são implementadas voltadas à população negra. São aquelas que inexistem ou em sua maioria são ineficientes em reparar os séculos de prejuízo causados pela escravização. O pós abolição lançou a própria sorte a população negra, que não encontrava trabalho e nem podia praticar sua cultura.
Considerando que a população brasileira é formada por 55% de pessoas negras segundo números de 2016, é importante ressaltar que quando se fala em pobreza ou miséria no Brasil, fala-se do povo negro, já que 76% das pessoas empobrecidas, segundo dados do IBGE de 2014, são negras. Se não se entende que a cor das pessoas marginalizadas está diretamente ligada ao fato delas serem marginalizadas, o foco das análises e ações se perde e seus resultados podem não ser os esperados. O genocídio do povo negro foi construído sobre as políticas públicas de exclusão, barrando o acesso das pessoas negras à terra e ao mercado de trabalho, por exemplo.
Se a pobreza e a miséria brasileiras têm cor, quando se fala de projetos como a Reforma Trabalhista e a Lei da Terceirização, por exemplo, apesar de afetar a população como um todo, o principal alvo são as pessoas negras que ocupam em maior parte os empregos precários. Também é o caso da reforma da previdência. Segundo dados de 2010, a expectativa de vida média no Brasil é de 72 anos, mas se fizermos um corte racial, os números ficam: homem branco 69 anos, mulheres brancas 71 anos, homens negros 62 anos e mulheres negras 66 anos. Se considerarmos a idade mínima de 65 anos para se aposentar do projeto de reforma, o povo negro vai morrer trabalhando.
Segundo dados do Atlas da Violência de 2017 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 são negras. Segundo o relatório, as pessoas negras possuem 23,5 mais chances de serem assassinadas do que não-negras, já descontando efeitos como idade, moradia, escolaridade e sexo. A CPI do Senado sobre o Assassinato de Jovens de 2016 revelou que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no Brasil.
O Atlas da Violência de 2018 retrata ainda que nos últimos dez anos, os números de assassinato caíram 8% entre as mulheres brancas e aumentaram 15,4% entre as negras. Mulheres negras encontram uma série de dificuldades em sua participação no movimento feminista por conta de suas especificidades e demandas acabarem historicamente invisibilizadas ou em segundo plano. Por isso é necessário alinhar, não somente classe e gênero, como também raça para uma militância responsável por parte de todas(os) as(os) revolucionárias(os). Porém, é preciso fazer aqui uma distinção. Enquanto grande parte daquelas que reivindicam o feminismo interseccional recaem em discursos típicos da socialdemocracia, não acreditamos no debate de opressões enquanto luta contra “privilégios”, nem cremos no “empoderamento” individual, e sim que estes eixos fazem parte da forma como se estrutura a sociedade. O único empoderamento possível é construir o poder negro real, coletivo, no seio do movimento social em conjunto dos setores oprimidos: negros e negras, povos da floresta, camponeses, mulheres e trabalhadores em geral.
Todos os dados citados são evidências numéricas da dor real do povo negro. Dor institucionalizada e executada pelo Estado. No Rio de Janeiro, onde hoje ocorre a guerra declarada a partir da intervenção militar, encontramos dados ainda mais absurdos e que evidenciam o papel ativo da polícia militar no extermínio da população negra. É o relativo aos autos de resistência, que hoje são chamados nos relatórios policiais de “homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial”. Dados de 2017 indicaram que 9 em cada 10 pessoas mortas pela polícia no estado foram identificadas como negras. Somente em junho de 2018, houve 155 mortes decorrentes de operações policiais, um aumento de 59,8% em relação a junho do ano passado. Como se não fosse o bastante, um estudo de 2005 indicou que 99,2% dos casos de autos de resistência foram arquivados ou nunca chegaram à fase de denúncia.
A lista de casos de mortes envolvendo violência policial em favelas no Rio de Janeiro que chocaram o país é imensa. Como os jovens do Morro da Providência que foram entregues ao tráfico por policiais em 2008, Jonathan de 19 anos de Manguinhos em 2014, DG de 26 anos do Pavão- -Pavãozinho em 2014, Amarildo da Rocinha em 2013, Cláudia de 38 anos arrastada pelas ruas de Madureira por uma viatura da PM em 2014, Eduardo de 10 anos do Alemão em 2015, Matheus de 19 anos morto na Rocinha, os 5 jovens de Costa Barros mortos com 111 tiros em 2015, Andreu do Cantagalo espancado até a morte numa unidade do Degase em 2008, Eduarda de 13 anos morta dentro de uma escola em Acari em 2017, a lista é interminável…
Também vemos o aval do Estado em relação às mortes que correm entre os indígenas, que até hoje estão em luta pelo seu território contra aqueles que hoje dominam a máquina estatal, os latifundiários e sua corja assassina da bancada ruralista. As mortes pelas mãos da milícia não acontecem apenas no contexto urbano, elas estão presentes também no campo e na floresta. O medo crescente pelo fortalecimento da extrema-direita brasileira nas eleições de 2018 trouxe a ilusão de que reafirmar candidaturas dos que financiam milícias fora de contexto urbano, por exemplo, pudesse expressar em uma visão dita “pragmática”, uma forma de frear as forças fascistoides. Ilusões vendidas que não acumulam em nada para real derrota do reacionarismo em voga. Assim o genocídio segue sua marcha fúnebre e tende a se aprofundar numa conjuntura em que o discurso de ódio ganha terreno. Igual é a ilusão dos candidatos, com base social e muitas vezes até ditos revolucionários, de que podem amenizar o genocídio fazendo parte da empresa que o comanda.
Enquanto anarquistas da Coordenação Anarquista Brasileira, devemos fundamentar uma crítica racial ao Estado e ao capital. O anarquismo não tem outra chance a não ser descolonizar-se para enfrentar as lutas e construir uma alternativa real junto ao povo preto. O Estado-Nação e o capitalismo não se dissociam, e através deles não é possível a verdadeira transformação social, devemos destruí-los em todos seus eixos de dominação.
As condições dos descendentes de africanos escravizados e daqueles que sofreram sob o sistema colonial europeu é algo que tem sido ignorado pelos movimentos anarquistas majoritariamente brancos. Isto é um erro, tanto estratégico quanto político, que condenou o movimento anarquista a ser, muitas vezes, um projeto das classes médias brancas. Felizmente, os povos não-brancos autônomos que são simpáticos ao anarquismo têm falado e exigem serem ouvidos. África, Ásia e América Latina têm visto as pessoas não-brancas oprimidas saírem de seus “lugares” e exigirem autonomia: autonomia negra. [Kom’boa Ervin, “Nota à edição brasileira de ‘Anarquismo e Revolução Negra’”]
Nesse sentido não nos serve o etapismo economicista e eurocêntrico de Marx, uma vez que este traz noções distorcidas para a realidade dos países colonizados e acaba por colocar a questão racial como secundária em relação à questão de classe. Nem os pós-modernos, em moda na Europa, que reduzem a política ao nível individual e apagam a luta de classes. Tampouco devemos nos deixar seduzir pelas teorias latinas que recaiam na socialdemocracia. As diferenças socioculturais não podem mais ser secundarizadas como nos ensinaram os zapatistas. Para construir o mundo onde cabem muitos mundos, é preciso desde já se comprometer a uma teoria e uma prática, desde a base, verdadeiramente antirracista!